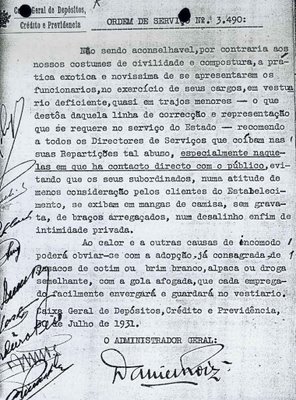AMORES PERDIDOS
Coimbra é uma cidade de amores, dizem. Para mim foi, é, uma terra de amores perdidos.Lá perdi dois, com efeito. Perdi, é uma expressão que aqui emprego com toda a propriedade, pois tendo ambos a sua génese noutra localidade bem distante, quis o destino que em Coimbra tivessem inesperados e dolorosos epílogos. Esta lindíssima cidade foi para mim, um verdadeiro lugar de perda. E contudo, e apesar de tudo, uma coisa ganhei: um paradoxal amor pela própria cidade.
.Um desses amores perdidos - é melhor começar por dizer que é de “uma” que se trata, pois estou falando de mulheres e nos tempos que correm convém explicitar de forma inequívoca o sexo dos amores de que se fala. E sendo assim, reformulo o começo da frase: Uma delas, chamemos-lhe Licínia, foi a morte que a levou; a outra, chamemos-lhe Isilda, foi a vida que me a fez perder.
A esta amei-a perdidamente. Era o meu primeiro amor e investi demasiado nela. No amor, como na Bolsa, quando muito se investe muito se pode perder. Com ela perdi tudo. Era uma jovem esbelta, alta, elegante, bem feita de corpo, cabelos longos de um castanho que se adivinhava terem sido louros na infância, rosto bonito, pele branca semeada por uma ou outra sarda que, longe de a desfear, lhe davam uma graça peculiar.
.
A meio do nosso namoro, o pai, que era mestre de obras e tinha uma demorada empreitada em Coimbra, teve de se mudar para lá e com ele, toda a família, como é obvio. Apesar da mágoa imensa que a separação me causou, tive forma de minimizar os seus efeitos, pois sendo funcionário da CP e podendo viajar em primeira classe em qualquer dos seus comboios, arranjei maneira de, durante os meses seguintes, passar com ela praticamente todos os domingos e mesmo alguns fins de semana, pernoitando nesse caso numa pensão perto da sua residência.
.
Quem pense que era só eu que tinha a paciência de me deslocar a Coimbra, semana após semana, para namorar, está redondamente enganado. Na verdade, quando em Coimbra entrava no Rápido, de regresso a Lisboa, encontrava sempre um compartimento repleto de colegas com um lugar reservado para mim - também eles regressados de visitar as respectivas namoradas, uns do Porto outros de Aveiro e outros mesmo de algumas estações mais acima, na linha do Douro.
.
A diferença é que eles iam de véspera e as namoradas viviam nas suas próprias terras que eram também as deles. Desta maneira, de uma cajadada matavam vários coelhos: consolavam-se junto das namoradas, matavam saudades da família e traziam provimentos para toda a semana, que os ordenados dos ferroviários eram bem baixos, sobretudo para quem como eles vivia em pensões. cuja mensalidade lhes levava uma boa parte dos mesmos dos seus magros proventos.
Nestes meses de namoro em Coimbra tive a ocasião de ficar a conhecer a cidade, e mesmo alguns arredores, razoavelmente bem, juntamente com a Isilda, sempre acompanhada, bem entendido, da irmã mais nova do que ela e bastante permissiva no seu forçado papel de “chaperon”, diga-se. Divaguei pelas veredas do Penedo da Saudade, gozei o remanso fresco do Jardim da Sereia, percorri as bem desenhadas áleas do Jardim botânico, espraiei-me pelo Calhabé, andei por Celas e Santo António dos Olivais, passei deliciosas tardes nas margens do Mondego que por essa altura bem merecia o apelido de “Bazófias”, como os estudantes o chamam; piqueniquei no choupal, bronzeei-me nas areias douradas da Figueira da Foz… cada momento do dia aproveitado ao máximo, até que às 20,30, se bem me lembro, chegava a triste hora de partir, ficando o namoro interrompido até à semana seguinte.
Assim se passaram vários meses até que um dia, alguém “fez o favor” de me avisar que a boa da Isilda, menos paciente do que eu, e sobretudo mais calculista, não se contentando com o namoro dominical tinha arranjado um part-time (aliás, part-time, afinal, era o meu) para os restantes dias da semana - no que terá feito, além do mais, um belo negócio ao trocar um pé rapado como eu, que tinha na altura um vencimento mexeruco de ferroviário em princípio de carreira, por um filho de comerciante abastado, seu vizinho. ao que me constou.
Escusado será dizer que fiquei com uma dor de corno das antigas, tanto mais que, como atrás referi, tinha por ela uma verdadeira paixão. Cantei-lhe das boas, “daquelas que os cães não gostam”, como dizia minha mãe. Por escrito apenas, pois não me dignei sequer voltar a vê-la.
Ela lá ficou, não tardou muito que casasse e lá reside desde então. Cinquenta e alguns anos se passaram, e nunca mais lhe pus a vista em cima. Sei apenas que está bem de vida e que tem dois ou três filhos ou filhas.

A outra, a Licínia, era em tudo diferente: franzina, tipo “mignone”, gentil de maneiras e doce no falar, discreta, uma ternura de moça. Cintura fina, bem feitinha de corpo, morena, olhos pretos, rasgados, de uma doçura infinita. Em boa verdade ela já me namorava nas últimas semanas da vigência do meu namoro com a Isilda. Conhecemo-nos no jardim local, onde todas as tardes ia passear com um irmãozito de três ou quatro anos. Conversávamos muito e era ela que me “fazia a corte” e se considerava minha namorada, como atrás referi. Era o que se podia chamar um amor unidireccional.
Eu achava-a muito garota e não a levava muito a sério. Embeiçado que estava pela outra, mais mulher, mais sensual, mais “boazona” passe o deselegância da expressão, limitava-me a aceitar o “flirt” com uma certa complacência, deixando-lhe porém muito claro que gostava de outra e com ela estava comprometido. A sua reacção foi desarmante e completamente inesperada, sobretudo naquele recuado tempo – “E que é que isso tem? Eu gosto de si e vamos ver quem ganha! O amor é como uma guerra e quem sabe se eu não consigo vir a ganha-la?” E ria como uma criança travessa. E lá continuámos com os nossos encontros e as nossas conversas quase diárias, no jardim, ao fim da tarde.
Uma uma vez encerrado o “affaire” Isilda, e com o coração desocupado, acabei por ceder aos encantos da garota que, por tal razão. se julgou, como previra e desejara, justa vencedora da “guerra de amor” em que se tinha empenhado. Em boa verdade a minha gentil beligerante não era vencedora de guerra alguma, mas antes dedicada enfermeira que acolhia um ferido derrotado em outro campo de batalha. a duzentos quilómetros do seu teatro de operações.
Pouco durou, contudo, este namorofinalmente assumido por ambas as partes, como é de norma. Umas semanas depois, a mãe da Licinia (senhora julgo que divorciada e que nunca cheguei a conhecer) resolveu mudar-se nem mais nem menos do que, (pasme-se) para Coimbra - a cidade da minha derrota - mais concretamente para uma pequena freguesia vizinha, de onde era natural.
Muito chorou a moça no meu ombro, quando me deu a notícia. Logo agora que estava toda ufana com a vitória amorosa que acabara de alcançar! Sabendo da minha prerrogativa de viajar de comboio sem gastar um tostão, implorou-me que não deixasse de ir vê-la a Coimbra, onde ela arranjaria maneira de vir encontrar-se comigo. Quem poderia resistir a um pedido feito, com os olhos rasos de água, por uma moça tão sensível, tão terna, como era a Licínia?
Lá recomeçaram as viagens dominicais no rápido (“flecha de prata” se chamava na altura) para a cidade do Mondego. Os nossos encontros eram quase sempre para os lados de Santa Clara, no Portugal dos Pequeninos (bom pretexto para a mãe a deixar vir acompanhada do irmãozito) ou na Quinta das Lágrimas, precisamente na zona em que morava a sua antecessora, à porta da qual eu tinha obrigatoriamente de passar, sem curiosamente nunca a ter encontrado.
O meu sentimento pela moça não era, contudo suficientemente forte para resistir ao cansaço e monotonia das repetitivas viagens semanais, que a dada altura começaram a rarear, sendo aos poucos trocadas por ardentes e românticas missivas, sobretudo da sua parte, as quais por sua vez se foram tornando mais raras, até que resolvi, com grande desgosto dela, pôr um ponto final naquele inconsequente namoro.
Vim a saber, bastante mais tarde, que a moça acabou por casar com um rapaz lá da terra e morreu de parto, pouco depois. Tão moça que era! Guardo dela uma terna recordação e pouco mais.
Só voltei a Coimbra cerca de quarenta anos depois, altura em que, por várias vezes ali tive de me deslocar, em serviço, a fim de dar apoio à organização de reuniões internacionais organizadas pela minha empresa. Claro que, deambulando sozinho pela cidade, todas as recordações dos tempos ali passados, que eu tanto me empenhara em esquecer, aos poucos, começaram a surgir na minha memória. Primeiro difusas, desfocadas e finalmente com uma nitidês impressionante, como fotografias num tina de revelação, em que as figuras vão aparecendo e ganhando contornos, à medida que o reagente actua.
Em todas as ruas e recantos me parecia ver a Isilda. A partir de determinada altura passei mesmo a procurá-la deliberadamente em tudo quanto era sítio: nos cafés e pastelarias, nos mercados, nas boutiques em todo o lado em que, consoante as horas do dia, havia probabilidades de encontrar uma dona de casa. Sempre que via um vulto de mulher com a sua estatura, cabelo caído pelas costas, pernas que lembrassem as suas, jeito de andar que se assemelhasse ao seu, apressava o passo de forma a ultrapassa-la e espreitar-lhe discretamente ao rosto para conferir se seria o seu.
Esforço baldado. Nunca, entre as centenas de caras bonitas que compulsei, tive a sorte de descortinar a sua. Só depois de incontáveis tentativas frustradas me dei conta do grave erro cronológico que vinha cometendo ao procurar nas mulheres que seguia – todas jovens, claro - o rosto que ela tinha aos vinte anos, quando na verdade ela seria agora uma sexagenária, como eu. A partir dessa tardia conclusão passei a seguir tudo o que fosse mulher, tivesse à volta de sessenta anos e um aspecto que, eventualmente fizesse lembrar o seu, quarenta anos atrás. Confesso que não sei mesmo que iria fazer se a encontrasse. Talvez dizer-lhe “olá, que é feito de ti, como te tem corrido a vida”, e ter com ela a conversa civilizada que não tivemos no final abrupto do nosso romance.
Certo dia, em que pernoitei na cidade, levantei-me cedo e em vez de deambular pela baixa, atravessei a ponte e fui passear para a outra margem do rio. Depois de algumas voltas por aquelas paragens que tão bem conhecia, sentei-me a descansar no banco de uma paragem de autocarros, a meia dúzia de passos do prédio onde ela morava com os pais. Lá estava, mesmo à esquina, lembrando a proa de um navio erguido na embocadura de duas ruas que progressivamente se afastam. Lá estava, no último piso a varanda onde tantas vezes namorámos.
A certa altura, vinda precisamente dos lados do referido prédio, surge uma senhora que, muito cortês, me pede licença e se senta a meu lado.
Tinha mais ou menos a minha idade. Ar simpático, de estatura média, e que delicadamente me deu os bons dias. Vestia de saia e casaco de cor “beige”, um lenço ao pescoço no mesmo tom, sapatos castanhos claros, de salto baixo. Aguardava a passagem de um autocarro que a levasse à baixa onde “ia fazer uma compritas”. Disse-me que morava perto e aproveitei para lhe perguntar se, por acaso, se recordava de um casal com duas filhas jovens (uma delas muito bonita, acrescentei) e um rapazito que, no inicio dos anos cinquenta, morava no prédio e no andar que lhe apontei.
- Não, meu caro senhor, não moro aqui há tantos anos assim nem nada que se pareça. Quem talvez lhe possa dizer alguma coisa é a senhora da papelaria em frente – uma velhota que sempre aqui morou.
Permaneci calado, mas o meu rosto deve ter reflectido o desapontamento, pois a senhora se voltou para mim, e me disse com ar malicioso mas no qual vislumbrei também uma indisfarçável simpatia:
- O meu amigo anda à procura de um amor perdido, não anda? Seja sincero.
Sorri, meio desajeitado e neguei:
- Não minha senhora, é mera curiosidade. Trata-se apenas de umas pessoas que eu conheci há muitos anos e de quem era amigo.
Ela, porém não se deu mostras de ter ficado convencida
-Ná, vejo bem nos seu modos e na sua atitude – só a maneira como se referiu à beleza de uma das jovens - que é de um amor perdido que se trata. E olhe que de amores perdidos, percebo eu.
E sem que eu dissesse mais nada, lendo a expressão de interrogativa surpresa nos meus olhos, começou:
Olhe, nasci numa cidade de um concelho vizinho (cidade que ela nomeou, mas que me escuso de dizer o nome por razões do bom nome da senhora) onde cresci em casa de meus pais, proprietários de uma boa casa comercial e de outros imóveis que constituíam um património assas valioso: estudei em Coimbra onde me formei como professora primária e fui dar aulas lá na terra. Lá me apaixonei por um rapaz muito bonito, e com ele fazia tenções de me casar; só que ele era um simples carteiro – aliás foi numa das frequentes distribuições de correio para a minha residência que nos conhecemos e começámos a namoriscar – e os meus pais tanto fizeram, tanto me infernizaram, tanto me atiraram à cara com outros pretendentes da sua escolha, que eu, por inércia e cobardia, acabei por casar com amigo deles, com casa aberta de ourivesaria, aqui em Coimbra, para onde viemos morar.
O meu marido era um homem generoso e sempre me tratou bem, mas o meu amor carteiro, que eu sabia tinha ficado destroçado com o meu abandono, não me saía do pensamento e tanto que, com o decorrer dos anos, se tornou uma obsessão. Um dia jurei para mim mesma: meu Deus, se o meu marido morrer, esteja onde esteja o meu amor, vou à procurá-lo. Assim foi. O meu marido morreu há cinco anos, descobri que o meu antigo namorado, de quem eu nunca tinha perdido o rasto, se tinha reformado, e que vivia no Porto. Fui à procura dele, trouxe-o comigo, e há três anos que vivemos juntos e somos muito felizes.
E tinha os olhos brilhantes quando acabou de falar.
Fiquei de boca aberta, sem saber o que dizer. E ela rematou, pondo a sua mão, de uma forma que me pareceu carinhosa, na minha que descansava num dos joelhos:
- Como vê, meu amigo, sei do que falo. Não sei porquê, mas pressinto que há na sua vida um caso igual ao meu. Não seja orgulhoso. Só temos a uma vida e não há nada mais importante que um verdadeiro amor.
Neguei terminantemente que houvesse na minha vida algo de parecido com o que ela acabara de contar, mas ela não se convenceu. Chegou entretanto o autocarro que a senhora esperava, despediu-se de mim e já à porta do veículo que a levaria às compras ainda se voltou para trás a recomendar: - Não se esqueça, meu amigo, pense bem no que lhe disse.
E eu, não tendo qualquer autocarro para tomar, ali permaneci, absorto, contemplando o prédio onde provavelmente já não mora ninguém, pensando na determinação da senhora, com todo o aspecto de uma dona de casa recatada, na sua coragem em refazer os fios de uma antiga história de amor que parecia irremediavelmente perdida. Mais do que isso, admirava a simplicidade com que ela se abrira para um desconhecido que provavelmente ( e se calhar por isso mesmo) não mais tornaria a ver.
E de súbito um pensamento malévolo me atormentou: será que a senhora, com tanta determinação, não terá ajudado o marido a ir desta para melhor, antes da hora que o destino lhe tinha reservado? E depois, a avolumar mais a minha estranheza, lembrei-me: “espera, ela não me disse se o carteiro que ela foi buscar ao Porto (“trouxe-o comigo” foi a expressão que ela usou) vivia só ou acompanhado. Será que para ela isso era um pormenor de somenos importância? E no caso de ter companhia como é que ela resolveu a situação? Terá arranjado maneira de a eliminar? Mas logo afastei de mim tão tenebrosas suspeitas, levando-as à conta do meu excessivo apego à leitura de romances policiais, tipo Ruth Rendell, onde gente com o ar mais normal do mundo comete os crimes mais sórdidos por motivos bem fúteis, por vezes. Ainda hoje contudo me interrogo a esse respeito e me inquieto com as dúvidas que aquela extranha conversa deixou no ar.
Pelo sim, pelo não, entretive-me, na altura, a analisar os meus próprios sentimentos e dei graças por eu não ser possuidor da mesma determinação da minha confidente, na procura e recuperação de amores perdidos. No fundo eu estava simplesmente a fazer uma viagem a um tempo feliz da minha vida que coincide (quase) sempre com o tempo da juventude. Era a mim mesmo, afinal, que eu procurava na procura de amores perdidos, de um tempo sem volta.
A esta amei-a perdidamente. Era o meu primeiro amor e investi demasiado nela. No amor, como na Bolsa, quando muito se investe muito se pode perder. Com ela perdi tudo. Era uma jovem esbelta, alta, elegante, bem feita de corpo, cabelos longos de um castanho que se adivinhava terem sido louros na infância, rosto bonito, pele branca semeada por uma ou outra sarda que, longe de a desfear, lhe davam uma graça peculiar.
.
A meio do nosso namoro, o pai, que era mestre de obras e tinha uma demorada empreitada em Coimbra, teve de se mudar para lá e com ele, toda a família, como é obvio. Apesar da mágoa imensa que a separação me causou, tive forma de minimizar os seus efeitos, pois sendo funcionário da CP e podendo viajar em primeira classe em qualquer dos seus comboios, arranjei maneira de, durante os meses seguintes, passar com ela praticamente todos os domingos e mesmo alguns fins de semana, pernoitando nesse caso numa pensão perto da sua residência.
.
Quem pense que era só eu que tinha a paciência de me deslocar a Coimbra, semana após semana, para namorar, está redondamente enganado. Na verdade, quando em Coimbra entrava no Rápido, de regresso a Lisboa, encontrava sempre um compartimento repleto de colegas com um lugar reservado para mim - também eles regressados de visitar as respectivas namoradas, uns do Porto outros de Aveiro e outros mesmo de algumas estações mais acima, na linha do Douro.
.
A diferença é que eles iam de véspera e as namoradas viviam nas suas próprias terras que eram também as deles. Desta maneira, de uma cajadada matavam vários coelhos: consolavam-se junto das namoradas, matavam saudades da família e traziam provimentos para toda a semana, que os ordenados dos ferroviários eram bem baixos, sobretudo para quem como eles vivia em pensões. cuja mensalidade lhes levava uma boa parte dos mesmos dos seus magros proventos.
Nestes meses de namoro em Coimbra tive a ocasião de ficar a conhecer a cidade, e mesmo alguns arredores, razoavelmente bem, juntamente com a Isilda, sempre acompanhada, bem entendido, da irmã mais nova do que ela e bastante permissiva no seu forçado papel de “chaperon”, diga-se. Divaguei pelas veredas do Penedo da Saudade, gozei o remanso fresco do Jardim da Sereia, percorri as bem desenhadas áleas do Jardim botânico, espraiei-me pelo Calhabé, andei por Celas e Santo António dos Olivais, passei deliciosas tardes nas margens do Mondego que por essa altura bem merecia o apelido de “Bazófias”, como os estudantes o chamam; piqueniquei no choupal, bronzeei-me nas areias douradas da Figueira da Foz… cada momento do dia aproveitado ao máximo, até que às 20,30, se bem me lembro, chegava a triste hora de partir, ficando o namoro interrompido até à semana seguinte.
Assim se passaram vários meses até que um dia, alguém “fez o favor” de me avisar que a boa da Isilda, menos paciente do que eu, e sobretudo mais calculista, não se contentando com o namoro dominical tinha arranjado um part-time (aliás, part-time, afinal, era o meu) para os restantes dias da semana - no que terá feito, além do mais, um belo negócio ao trocar um pé rapado como eu, que tinha na altura um vencimento mexeruco de ferroviário em princípio de carreira, por um filho de comerciante abastado, seu vizinho. ao que me constou.
Escusado será dizer que fiquei com uma dor de corno das antigas, tanto mais que, como atrás referi, tinha por ela uma verdadeira paixão. Cantei-lhe das boas, “daquelas que os cães não gostam”, como dizia minha mãe. Por escrito apenas, pois não me dignei sequer voltar a vê-la.
Ela lá ficou, não tardou muito que casasse e lá reside desde então. Cinquenta e alguns anos se passaram, e nunca mais lhe pus a vista em cima. Sei apenas que está bem de vida e que tem dois ou três filhos ou filhas.

A outra, a Licínia, era em tudo diferente: franzina, tipo “mignone”, gentil de maneiras e doce no falar, discreta, uma ternura de moça. Cintura fina, bem feitinha de corpo, morena, olhos pretos, rasgados, de uma doçura infinita. Em boa verdade ela já me namorava nas últimas semanas da vigência do meu namoro com a Isilda. Conhecemo-nos no jardim local, onde todas as tardes ia passear com um irmãozito de três ou quatro anos. Conversávamos muito e era ela que me “fazia a corte” e se considerava minha namorada, como atrás referi. Era o que se podia chamar um amor unidireccional.
Eu achava-a muito garota e não a levava muito a sério. Embeiçado que estava pela outra, mais mulher, mais sensual, mais “boazona” passe o deselegância da expressão, limitava-me a aceitar o “flirt” com uma certa complacência, deixando-lhe porém muito claro que gostava de outra e com ela estava comprometido. A sua reacção foi desarmante e completamente inesperada, sobretudo naquele recuado tempo – “E que é que isso tem? Eu gosto de si e vamos ver quem ganha! O amor é como uma guerra e quem sabe se eu não consigo vir a ganha-la?” E ria como uma criança travessa. E lá continuámos com os nossos encontros e as nossas conversas quase diárias, no jardim, ao fim da tarde.
Uma uma vez encerrado o “affaire” Isilda, e com o coração desocupado, acabei por ceder aos encantos da garota que, por tal razão. se julgou, como previra e desejara, justa vencedora da “guerra de amor” em que se tinha empenhado. Em boa verdade a minha gentil beligerante não era vencedora de guerra alguma, mas antes dedicada enfermeira que acolhia um ferido derrotado em outro campo de batalha. a duzentos quilómetros do seu teatro de operações.
Pouco durou, contudo, este namorofinalmente assumido por ambas as partes, como é de norma. Umas semanas depois, a mãe da Licinia (senhora julgo que divorciada e que nunca cheguei a conhecer) resolveu mudar-se nem mais nem menos do que, (pasme-se) para Coimbra - a cidade da minha derrota - mais concretamente para uma pequena freguesia vizinha, de onde era natural.
Muito chorou a moça no meu ombro, quando me deu a notícia. Logo agora que estava toda ufana com a vitória amorosa que acabara de alcançar! Sabendo da minha prerrogativa de viajar de comboio sem gastar um tostão, implorou-me que não deixasse de ir vê-la a Coimbra, onde ela arranjaria maneira de vir encontrar-se comigo. Quem poderia resistir a um pedido feito, com os olhos rasos de água, por uma moça tão sensível, tão terna, como era a Licínia?
Lá recomeçaram as viagens dominicais no rápido (“flecha de prata” se chamava na altura) para a cidade do Mondego. Os nossos encontros eram quase sempre para os lados de Santa Clara, no Portugal dos Pequeninos (bom pretexto para a mãe a deixar vir acompanhada do irmãozito) ou na Quinta das Lágrimas, precisamente na zona em que morava a sua antecessora, à porta da qual eu tinha obrigatoriamente de passar, sem curiosamente nunca a ter encontrado.
O meu sentimento pela moça não era, contudo suficientemente forte para resistir ao cansaço e monotonia das repetitivas viagens semanais, que a dada altura começaram a rarear, sendo aos poucos trocadas por ardentes e românticas missivas, sobretudo da sua parte, as quais por sua vez se foram tornando mais raras, até que resolvi, com grande desgosto dela, pôr um ponto final naquele inconsequente namoro.
Vim a saber, bastante mais tarde, que a moça acabou por casar com um rapaz lá da terra e morreu de parto, pouco depois. Tão moça que era! Guardo dela uma terna recordação e pouco mais.
Só voltei a Coimbra cerca de quarenta anos depois, altura em que, por várias vezes ali tive de me deslocar, em serviço, a fim de dar apoio à organização de reuniões internacionais organizadas pela minha empresa. Claro que, deambulando sozinho pela cidade, todas as recordações dos tempos ali passados, que eu tanto me empenhara em esquecer, aos poucos, começaram a surgir na minha memória. Primeiro difusas, desfocadas e finalmente com uma nitidês impressionante, como fotografias num tina de revelação, em que as figuras vão aparecendo e ganhando contornos, à medida que o reagente actua.
Em todas as ruas e recantos me parecia ver a Isilda. A partir de determinada altura passei mesmo a procurá-la deliberadamente em tudo quanto era sítio: nos cafés e pastelarias, nos mercados, nas boutiques em todo o lado em que, consoante as horas do dia, havia probabilidades de encontrar uma dona de casa. Sempre que via um vulto de mulher com a sua estatura, cabelo caído pelas costas, pernas que lembrassem as suas, jeito de andar que se assemelhasse ao seu, apressava o passo de forma a ultrapassa-la e espreitar-lhe discretamente ao rosto para conferir se seria o seu.
Esforço baldado. Nunca, entre as centenas de caras bonitas que compulsei, tive a sorte de descortinar a sua. Só depois de incontáveis tentativas frustradas me dei conta do grave erro cronológico que vinha cometendo ao procurar nas mulheres que seguia – todas jovens, claro - o rosto que ela tinha aos vinte anos, quando na verdade ela seria agora uma sexagenária, como eu. A partir dessa tardia conclusão passei a seguir tudo o que fosse mulher, tivesse à volta de sessenta anos e um aspecto que, eventualmente fizesse lembrar o seu, quarenta anos atrás. Confesso que não sei mesmo que iria fazer se a encontrasse. Talvez dizer-lhe “olá, que é feito de ti, como te tem corrido a vida”, e ter com ela a conversa civilizada que não tivemos no final abrupto do nosso romance.
Certo dia, em que pernoitei na cidade, levantei-me cedo e em vez de deambular pela baixa, atravessei a ponte e fui passear para a outra margem do rio. Depois de algumas voltas por aquelas paragens que tão bem conhecia, sentei-me a descansar no banco de uma paragem de autocarros, a meia dúzia de passos do prédio onde ela morava com os pais. Lá estava, mesmo à esquina, lembrando a proa de um navio erguido na embocadura de duas ruas que progressivamente se afastam. Lá estava, no último piso a varanda onde tantas vezes namorámos.
A certa altura, vinda precisamente dos lados do referido prédio, surge uma senhora que, muito cortês, me pede licença e se senta a meu lado.
Tinha mais ou menos a minha idade. Ar simpático, de estatura média, e que delicadamente me deu os bons dias. Vestia de saia e casaco de cor “beige”, um lenço ao pescoço no mesmo tom, sapatos castanhos claros, de salto baixo. Aguardava a passagem de um autocarro que a levasse à baixa onde “ia fazer uma compritas”. Disse-me que morava perto e aproveitei para lhe perguntar se, por acaso, se recordava de um casal com duas filhas jovens (uma delas muito bonita, acrescentei) e um rapazito que, no inicio dos anos cinquenta, morava no prédio e no andar que lhe apontei.
- Não, meu caro senhor, não moro aqui há tantos anos assim nem nada que se pareça. Quem talvez lhe possa dizer alguma coisa é a senhora da papelaria em frente – uma velhota que sempre aqui morou.
Permaneci calado, mas o meu rosto deve ter reflectido o desapontamento, pois a senhora se voltou para mim, e me disse com ar malicioso mas no qual vislumbrei também uma indisfarçável simpatia:
- O meu amigo anda à procura de um amor perdido, não anda? Seja sincero.
Sorri, meio desajeitado e neguei:
- Não minha senhora, é mera curiosidade. Trata-se apenas de umas pessoas que eu conheci há muitos anos e de quem era amigo.
Ela, porém não se deu mostras de ter ficado convencida
-Ná, vejo bem nos seu modos e na sua atitude – só a maneira como se referiu à beleza de uma das jovens - que é de um amor perdido que se trata. E olhe que de amores perdidos, percebo eu.
E sem que eu dissesse mais nada, lendo a expressão de interrogativa surpresa nos meus olhos, começou:
Olhe, nasci numa cidade de um concelho vizinho (cidade que ela nomeou, mas que me escuso de dizer o nome por razões do bom nome da senhora) onde cresci em casa de meus pais, proprietários de uma boa casa comercial e de outros imóveis que constituíam um património assas valioso: estudei em Coimbra onde me formei como professora primária e fui dar aulas lá na terra. Lá me apaixonei por um rapaz muito bonito, e com ele fazia tenções de me casar; só que ele era um simples carteiro – aliás foi numa das frequentes distribuições de correio para a minha residência que nos conhecemos e começámos a namoriscar – e os meus pais tanto fizeram, tanto me infernizaram, tanto me atiraram à cara com outros pretendentes da sua escolha, que eu, por inércia e cobardia, acabei por casar com amigo deles, com casa aberta de ourivesaria, aqui em Coimbra, para onde viemos morar.
O meu marido era um homem generoso e sempre me tratou bem, mas o meu amor carteiro, que eu sabia tinha ficado destroçado com o meu abandono, não me saía do pensamento e tanto que, com o decorrer dos anos, se tornou uma obsessão. Um dia jurei para mim mesma: meu Deus, se o meu marido morrer, esteja onde esteja o meu amor, vou à procurá-lo. Assim foi. O meu marido morreu há cinco anos, descobri que o meu antigo namorado, de quem eu nunca tinha perdido o rasto, se tinha reformado, e que vivia no Porto. Fui à procura dele, trouxe-o comigo, e há três anos que vivemos juntos e somos muito felizes.
E tinha os olhos brilhantes quando acabou de falar.
Fiquei de boca aberta, sem saber o que dizer. E ela rematou, pondo a sua mão, de uma forma que me pareceu carinhosa, na minha que descansava num dos joelhos:
- Como vê, meu amigo, sei do que falo. Não sei porquê, mas pressinto que há na sua vida um caso igual ao meu. Não seja orgulhoso. Só temos a uma vida e não há nada mais importante que um verdadeiro amor.
Neguei terminantemente que houvesse na minha vida algo de parecido com o que ela acabara de contar, mas ela não se convenceu. Chegou entretanto o autocarro que a senhora esperava, despediu-se de mim e já à porta do veículo que a levaria às compras ainda se voltou para trás a recomendar: - Não se esqueça, meu amigo, pense bem no que lhe disse.
E eu, não tendo qualquer autocarro para tomar, ali permaneci, absorto, contemplando o prédio onde provavelmente já não mora ninguém, pensando na determinação da senhora, com todo o aspecto de uma dona de casa recatada, na sua coragem em refazer os fios de uma antiga história de amor que parecia irremediavelmente perdida. Mais do que isso, admirava a simplicidade com que ela se abrira para um desconhecido que provavelmente ( e se calhar por isso mesmo) não mais tornaria a ver.
E de súbito um pensamento malévolo me atormentou: será que a senhora, com tanta determinação, não terá ajudado o marido a ir desta para melhor, antes da hora que o destino lhe tinha reservado? E depois, a avolumar mais a minha estranheza, lembrei-me: “espera, ela não me disse se o carteiro que ela foi buscar ao Porto (“trouxe-o comigo” foi a expressão que ela usou) vivia só ou acompanhado. Será que para ela isso era um pormenor de somenos importância? E no caso de ter companhia como é que ela resolveu a situação? Terá arranjado maneira de a eliminar? Mas logo afastei de mim tão tenebrosas suspeitas, levando-as à conta do meu excessivo apego à leitura de romances policiais, tipo Ruth Rendell, onde gente com o ar mais normal do mundo comete os crimes mais sórdidos por motivos bem fúteis, por vezes. Ainda hoje contudo me interrogo a esse respeito e me inquieto com as dúvidas que aquela extranha conversa deixou no ar.
Pelo sim, pelo não, entretive-me, na altura, a analisar os meus próprios sentimentos e dei graças por eu não ser possuidor da mesma determinação da minha confidente, na procura e recuperação de amores perdidos. No fundo eu estava simplesmente a fazer uma viagem a um tempo feliz da minha vida que coincide (quase) sempre com o tempo da juventude. Era a mim mesmo, afinal, que eu procurava na procura de amores perdidos, de um tempo sem volta.